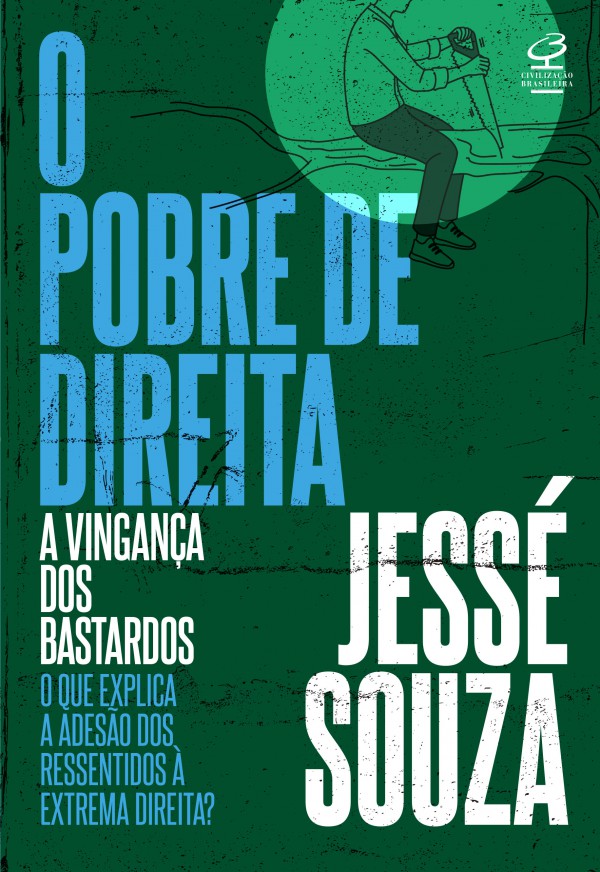
Como dito na postagem passada, pretendo a partir de agora debater a dicotomia esquerda X direita na perspectiva da realidade brasileira, procurando entender o que nos trouxe até aqui e o que a esquerda ainda tem a dizer para enfrentar as amarguras do presente e, principalmente, os desafios de um futuro, no mínimo, bastante problemático.
Também afirmei a necessidade de iniciar por um fenômeno que, embora recente, tem suas raízes na formação mesma da nossa sociedade. Me refiro ao bolsonarismo, enquanto movimento reacionário de direita que veio crescendo nos últimos anos até explodir na onda bolsonarista de 2018, responsável pela vitória eleitoral de Bolsonaro naquele ano, pela expressiva votação em 2022 e pela manutenção do seu ideário popular ainda hoje, apesar dos inúmeros fatores que o desmistificam, incluindo sua desde sempre evidente desonestidade.
Poucos pensadores brasileiros se dedicam ao tema tão bem como Jessé Souza, especialmente em seu último livro O Pobre de Direita. Em sua tentativa de explicar a adesão dos chamados ressentidos à extrema direita, Jessé argumenta a partir de uma análise sociológica acerca dos fatores psicossociais que estariam na base dessa adesão quase suicida de brancos pobres e negros, notadamente os evangélicos, ao bolsonarismo. Em trecho que já se tornou célebre (especialmente após o ataque terrorista ao STF no último dia 13.11, quando o suicida se fantasiou como o personagem), Jessé chama a atenção para a denominada síndrome do Coringa:
“O Coringa nos dá o mote do comportamento que importa esclarecer. A legião de esquecidos e humilhados – que aumenta a cada dia em todo lugar, muito especialmente em países onde a ideologia neoliberal domina sozinha o imaginário social, como os Estados Unidos e o Brasil – possui uma raiva e um ressentimento contra o mundo que eles não conseguem explicar nem direcionar, mas apenas experienciar e vivenciar como culpa individual” (p. 18).
De fato, o paralelo entre o personagem do filme Coringa de 2019, genialmente protagonizado por Joaquin Phoenix, e a realidade cotidiana de dezenas de milhões de brasileiros é notória. Humilhações diárias, em casa, no trabalho e no convívio social, majoradas por uma sociedade profundamente violenta, desigual e injusta, orientada por uma ética meritocrática que apenas reforça o estereotipo de perdedor e incapaz, tudo isso culminando num ressentimento que, mal orientado e ignorante de suas origens, os torna presas fáceis de discursos racistas, xenofóbicos, de ódio e “anti-sistema”.
Quanto à ética meritocrática, vale lembrar o conceito de tirania do mérito desenvolvido por Michael Sandel (A Tirania do Mérito). Segundo Sandel, a fé meritocrática não deixa de ter um certo apelo místico, fundado na crença de que a boa sorte dos vencedores é produto não do acaso, mas sim das virtudes que possuem. Tal ética meritocrática torna os vitoriosos arrogantes e os perdedores humilhados e ressentidos, corroendo a coesão social, servindo de justificativa para desigualdades econômicas de outra forma intoleráveis e dando ensejo a reações populistas autoritárias e nacionalistas.
Como afirmo em meu livro, Ao aceitarmos o critério da meritocracia como explicação suficiente das desigualdades sociais, ignoramos severamente as diferenças de ponto de partida e criamos desvantagens adicionais àqueles que, geralmente sem qualquer alternativa real, se encontram nas posições sociais mais baixas. Pior, tal critério favorece o preconceito e até mesmo posicionamentos racistas e eugenistas.
Mas Jessé vai mais além, identificando a síndrome do Coringa da realidade brasileira não apenas nesse prisma, mas principalmente no racismo estrutural da nossa sociedade.
Segundo Jessé, o discurso da extrema-direita atual, não por acaso criado nos Estados Unidos sobretudo a partir dos anos 80 do século passado, foi deliberadamente construído como reação ao avanço dos direitos sociais e igualitários naquele país. Com o lobby meticulosamente arquitetado de grandes industriais (como os Koch e os Mercer), inclusive com investimento pesado nas universidades americanas, a narrativa negacionista em matéria ambiental e extremamente reacionária em matéria social e moral (patriarcal, racista e homofóbica), chegou até nós na figura de pessoas como Bannon, diretamente responsável pela primeira vitória de Trump e que hoje volta aos holofotes, acompanhado dos grandes bilionários da “big techs” (entre eles, o nazista Elon Musk, mas isso já será tema de outra postagem).
No Brasil, o processo, segundo Jessé, vem mais de longe, notadamente como reação ao getulismo. Para ele, foi Getúlio Vargas, inspirado pelas ideias do “bom mestiço” de Gilberto Freyre (p. 58-59), quem ousou combater nosso racismo explícito. Em reação, o chamado por ele de “manifesto liberal contra o varguismo” de Sérgio Buarque (Raízes do Brasil), teria inaugurado nossa propensão à criminalização do Estado e da política, bem como consolidado entre nós a falsa ideia de “homem cordial”, entendido como “o produto mais acabado da tradição cultural brasileira”, essencialmente “personalista e, portanto, corrupto, por não separar o público do privado” (p. 60-61).
Para Jessé, estaria aí a grande distorção da retórica direitista tupiniquim. Por meio dela, nosso racismo “de cor” se camufla num racismo social, dividindo nossa sociedade entre os “brancos” trabalhadores e honestos, sobretudo aqueles vindos da Europa e que povoaram a região Sul e São Paulo entre 1870 e 1930, e a ralé, o “povinho” mestiço e negro do país, produto e produtores do “jeitinho brasileiro”, preguiçosos e ignorantes, destinados ao, quando muito, trabalho braçal e/ou eterna dependência das benesses do Estado.
Haveria, portanto, uma transformação do racismo “racial” em racismo “cultural” (p. 63), culminando numa guerra cultural entre as classes, na qual aqueles que estão um pouco acima da pirâmide social se veem levados a justificar e até promover a humilhação dos que estão embaixo, aderindo à retórica das elites, como mecanismo de autoafirmação.
Como diz Jessé, “aqui vale a regra de ouro: toda vez que inexistir a universalização das condições de igualdade – o que exige o reconhecimento social do valor e da dignidade alheia -, a distinção social positiva tem que ser conquistada ‘às custas dos outros’, isto é, pela humilhação e pelo rebaixamento da vida do outro” (p. 70).
Mais a frente, completa:
“Ou bem se generaliza o respeito individual a todos, ou quase todos, os membros da sociedade – como em algumas sociedades europeias mais igualitárias -, ou reconhecimento e autoestima irão ser conquistados à custa da humilhação do outro. Em sociedades com passado escravocrata, como Estados Unidos e Brasil, o segundo caso impera. Nesses casos, a autoestima e o respeito são obtidos ‘contra’ os outros e não ‘com’ os outros, como acontece, em geral, nas sociedades mais igualitárias” (p. 76).
Daí, por exemplo, o seletismo do nosso sistema de Justiça, tão visível pelos que trabalham na área com algum nível de discernimento social. Mais uma vez com Jessé, “a criminalização do pobre e do preto permite o enobrecimento moral relativo de todas as classes sociais acima da ‘ralé’ de perseguidos e abandonados” (p. 76).
Por isso também a opção de muitos por discursos falso moralistas, sobretudo aqueles advindos das igrejas evangélicas neopentecostais. Segundo ele:
“Essa é a razão mais importante do sucesso da pregação moralista e conservadora dos evangélicos. Ela vai dar a essas pessoas carentes de respeito social, sem as oportunidades que as classes do privilégio tiveram, um fundamento alternativo para que possam se orgulhar de si mesmas – como ‘homem de bem’ ou ‘pai de família’, sempre de acordo com o código construído pelos ricos para estigmatizarem os pobres” (p. 79).
É por essa via que Jessé explica o sucesso vertiginoso do neopentecostalismo entre nós (tema também explorado por Bruno Manso em A fé e o fuzil, analisado aqui em postagem do dia 03.02.2024), utilizando-se inclusive de elementos da religiosidade africana (invertendo-a, como nos ritos de expulsão dos demônios) para, ao final, aponta-la como inimiga. Conclui:
“Em um país racista como o nosso, o neopentecostalismo se alimenta, vicariamente, também dessa tradição nefasta que ajuda a criminalizar o negro e todas as suas práticas, inclusive as religiosas. Portanto, o neopentecostalismo é ideal para quem pretende ‘embranquecer’ – com tudo o que isso significa no Brasil, e que não se refere apenas à cor da pele – pela aceitação da norma moral vigente do dominador branco que implica o estigma do negro (seu vizinho ou irmão) e a sua criminalização” (p. 146).
Também nosso racismo regional se explicaria por essa via, dividindo, como dito acima, o país entre os “brancos” do Sul/Sudeste e os mestiços do Norte/Nordeste. Nas entrevistas mencionadas no livro, essa perspectiva é sempre ressaltada, atribuindo ao povo do Sul as características de trabalhadores honestos, responsáveis pela construção e desenvolvimento do país, e aos demais as pechas de preguiçosos e ignorantes, eternos dependentes de assistência social e incapazes de produzir nada decente.
De fato, tal visão é amplamente dominante no discurso bolsonarista e ficou mais uma vez explícita tão logo divulgados os resultados das eleições em 2022. Não foram poucos os episódios xenofóbicos em razão da prevalência de votos em Lula sobretudo no Nordeste, assim como não são raras as manifestações sectaristas de parcelas da população sulista do Brasil que se sente num país à parte, como se boa parte da nossa riqueza econômica e cultural, inclusive na construção de São Paulo e Brasília, não viesse do Nordeste.
Na verdade, Jessé tem razão ao afirmar que esse sectarismo é, nada mais nada menos, do que manifestação clara e inequívoca do nosso racismo. O não reconhecimento das inúmeras razões que faz com que o Nordeste vote majoritariamente em Lula é fruto direto da cegueira de boa parte da população brasileira acerca dos avanços sociais obtidos durante os seus dois primeiros mandatos.
Tais avanços são tidos como “esmola”, “compra de votos” e motivo de nosso atraso. Como se séculos de exploração econômica voltada para as grandes metrópoles (e delas pra fora do país) em um regime escravista que se perpetuou a partir da exploração da mão-de-obra barata vinda especialmente do Norte/Nordeste, em verdadeiros êxodos rurais que só aumentavam a miserabilidade dessa região, não tivessem nada a ver com isso. E como se as culpadas pelo nosso “subdesenvolvimento econômico” fossem as políticas sociais que provocaram avanços concretos na situação da região historicamente mais pobre do Brasil.
O mesmo se diga com relação ao tema da corrupção. Jessé novamente acerta ao apontar as contradições do discurso anticorrupção e “anti-sistema” que povoa o bolsonarismo. Como afirma o autor, sempre que um governo se propõe a tomar medidas de inclusão social, a resposta das elites é se aproveitar das nossas fragilidades democráticas e buscar o golpe de Estado, sempre com a acusação de corrupção, como se não fosse ela a mais corrupta parcela da nossa população, em sua eterna simbiose com o Estado.
Indignação seletiva e cegueira ideológica produzida pela nossa formação cultural, segundo Jessé diretamente relacionada com nosso racismo estrutural, são o ponto chave aqui. Com efeito, é exemplo claro de dissonância cognitiva (muito bem estudada por Elliot e Joshua Aronson no livro O Animal Social), a forma como nossa sociedade convive bem com a corrupção das elites (como a fraude bilionária nas Lojas Americanas, por exemplo) ao mesmo tempo em que criminaliza a política e, por mais paradoxal que seja, engole práticas como as rachadinhas com retóricas do tipo “todo político rouba mesmo”.
Como também reconhece Jessé, não se trata de um problema exclusivamente nosso. A corrupção das grandes elites econômicas em paraísos fiscais, por exemplo, é sempre escamoteada com a ajuda dos discursos que enfatizam a “corrupção generalizada” dos países do Sul Global. Aquela, jamais enxergada como algo sistemático mas, no máximo, como “deslizes individuais”, enquanto que no Sul seria produto da própria natureza dos povos subdesenvolvidos (como se tal subdesenvolvimento não fosse, isso sim, diretamente provocada por séculos de locupletação promovida pelos países do Norte).
É dessas dissonâncias cognitivas que se alimenta o bolsonarismo. É disso que sobrevive seu discurso de ódio e seu racismo. Ao contrário de outra falácia amplamente repetida, não é a esquerda, com suas lutas por reconhecimento das identidades sociais e culturais, que promove o sectarismo. Nosso sectarismo é inerente à nossa formação sociocultural desde séculos e quem vive delas, retroalimentando-as enquanto colhe seus frutos, são as elites predominantemente direitistas.
Daí também a falácia do discurso “anti-sistema” e anti-elite daqueles que, como Bolsonaro e Trump, na verdade fazem parte dela. Como afirma Jessé:
“Tanto na campanha de Trump quanto no Brexit e na campanha de Bolsonaro, a intenção era manipular o ódio e o ressentimento dos perdedores do neoliberalismo, mascarando suas causas objetivas e se atendo à satisfação primária das ansiedades e dos medos que o empobrecimento e o desemprego geravam. Trump utilizava um expediente que seria depois adotado por Bolsonaro em muitas ocasiões: o ataque ao opositor assumia a forma de um ataque abstrato e genérico à ‘elite’ o poder, como se o próprio Trump não fizesse parte dela” (p. 52).
Disso vem a conclusão de Jessé de que “Bolsonaro não agiu no vazio. Ele acordou ideias e sentimentos adormecidos que vieram pra ficar” (p. 58). De fato, boa parte da onda bolsonarista de 2018 pode ser explicada por essa via. Acompanhando um fenômeno global, Bolsonaro se aproveitou da erosão da democracia liberal, especialmente após a crise de 2008, para, com seu discurso moralista e “popular”, obter apoio da imensa massa de ressentidos que, apesar de maiores vítimas desse discurso, veem neles a única saída para suas “síndromes de Coringa”.
Como afirma Jessé, “Bolsonaro incorpora e manifesta na sua fala e no seu comportamento prático a raiva do injustiçado que não compreende como se dá a opressão social nem percebe em favor de quem ela é exercida” (p. 208). É por isso que “a extrema direita nada de braçada no ressentimento dos que não conhecem as causas de sua condição social. A causa aqui é a ausência de autoestima, autoconfiança e de reconhecimento social, provocadas pela experiência a humilhação moral cotidiana” (p. 210).
Nesse cenário, fica fácil subestimar as falas machistas, racistas e homofóbicas de Bolsonaro como se não fossem o retrato trágico da nossa condição. Fica fácil ignorar os diversos casos de corrupção envolvendo ele e sua família, incluindo o incrível crescimento patrimonial da família (bem maior do que um triplex do Guarujá) e apontar como “anti-sistema” alguém que viveu da política por décadas e incluiu diversos parentes nela.
Fica fácil aderir ao discurso do “bandido bom é bandido morto” e ignorar que quem morre nessa guerra são justamente aqueles que, vivendo entre a criminalidade e a brutalidade policial, mais incorporam essa falsa solução, numa retórica de “mocinhos x vilões” que só reforça o racismo escancarado e retroalimenta a violência.
Dito isso, é importante afastar desde logo a possível crítica de que Jessé veria racismo em tudo e reduziria todos os nossos problemas à questão racial. Em verdade, além do autor se afastar desse reducionismo com sua ideia de racismo cultural, o mesmo expressamente afirma não ser esse o único fator de explicação.
O que ele defende é a existência de fatores essenciais e secundários (p. 68). Para ele, nosso racismo cultural, oriundo do racismo racial mas se manifestando muito além dele, seria o fator fundamental que explica nossos antagonismos de classe e as escolhas eleitorais suicidas daqueles que votam nos seus algozes, como francamente ocorre com o bolsonarismo.
Isso não significa que não existam “fatores secundários”. Jessé não os enfrenta, mas não ignora sua existência. Quais são esses fatores e o quanto eles são independentes ou apenas reforçam os fatores primários essenciais é deixado em aberto.
É possível concordar com ele, embora com a ressalva de que a preponderância de um ou fator merece uma leitura mais acurada e menos generalista, sobretudo quando se observa que existem sim motivos legítimos para não se votar em Lula, por exemplo. Apesar de se concordar que o discurso anticorrupção das elites é uma falácia das mais infames e poderosas, fato inegável é que a corrupção existe no Brasil e governos de esquerda, assim como os de direita, muito se beneficiaram dela, constituindo sim um dos nossos problemas sociais mais graves.
Apesar da força dos argumentos de Jessé, portanto, precisamos ir além dele. Por isso a necessidade de buscarmos outros elementos que nos ajudem a explicar o fenômeno bolsonarista, ao mesmo tempo em que nos ofereça instrumental para não cairmos em reducionismos que possam ser utilizados para esconder os erros também da nossa esquerda. Uma alternativa profícua é a desenvolvida por Eliane Brum, tema da nossa próxima postagem.